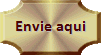|
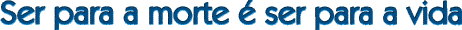
Vera Pessoa
Viver é Jesus Cristo, morrer é lucro.
Apóstolo Paulo
Quanto ao homem, os seus dias são como a erva;
como a flor do campo, assim ele floresce.
Salmo 103:15
Existir é coexistir.
Gabriel Marcel
RESUMO
Neste texto, refletimos “en passant” sobre o
Existencialismo na Filosofia. Embora represente uma
corrente específica do pensamento moderno, o
existencialismo não deixa de ser uma tendência que se
faz sentir ao longo de toda a história da filosofia. Os
temas de reflexão do existencialista giram em torno do
homem e da realidade humana. Heidegger, ao que nos
parece, é o filósofo mais alheio a essa perspectiva,
pois, para ele, o problema fundamental da filosofia é o
ontológico: o problema do ser. Assim, o problema do
homem fica subordinado a esse problema. Sejam quais
forem suas posições particulares, todos os
existencialistas afirmam, porém, que a escolha entre as
diferentes possibilidades implica riscos, renúncia e
limitação, salvo o francês Gabriel Marcel, principal
representante do existencialismo cristão, que pensa ser
possível a transcendência do homem mediante seu encontro
com Deus na fé. O distanciamento que temos à nossa
realidade com tudo que é dor, com tudo que é referente à
morte, deixa claro o quanto nos defendemos da nossa
existência e a negamos. A angústia e a morte vão
esbarrar-se exatamente no projeto sociocultural moderno
de controle, de consumo, de gozo de uma fictícia e
temporária felicidade. Ainda assim, cremos que não
devemos perder de vista que a finitude do homem é um
fenômeno cujo significado tem repercussões nas dimensões
familiares e em toda a sociedade. Logo, seria relevante
a introdução de debate da morte em termos críticos e
racionais em todas as ramas sociais.
Palavras-Chave:
Morte.
Existencialismo. Angústia.
ABSTRACT
In this essay we reflect “en passant”
on Existentialism in Philosophy. Although it represents
a specific current of modern thinking, existentialism is
still a trend that is felt throughout philosophy
history. The reflection topics of the existentialist
revolve around man and human reality. Heidegger, as it
seems to us, is the most oblivious philosopher of this
perspective, because, to him, the fundamental problem of
philosophy is ontological: the problem of being. Thus,
the problem of man is subject to this problem. Whatever
his particular positions are, all existentialists claim
that the choice among different possibilities involves
risks, resignations and limitations, except from the
Frenchman Gabriel Marcel, the main representative of the
Christian existentialism, who thinks man's transcendence
is possible when encountering God in faith. The distance
we have of our reality with all the pain, with
everything that is related to death, makes it clear how
we defend our existence and deny it. The anguish and
death will bump exactly in modern sociocultural project
of control, consumption and enjoyment of a fictitious
temporary happiness. Still, we believe that we should
not lose sight that man's finitude is a phenomenon whose
significance has repercussions on family dimensions and
across society. Therefore, it would be relevant to
introduce a discussion on death in critical and rational
terms in all social branches.
KEYWORDS:
Death. Existentialism. Anguish.
PRELÚDIO
Refletir acerca do que nos propõem os
grandes pensadores existencialistas e meditar sobre a
finitude física ou não da pessoa humana tem,
marcadamente, nos motivado, a partir de 1979, e nos
empurrado a leituras e a rascunhos sobre essas
indefinidas questões universais à luz dos questionáveis
conhecimentos puramente humanos.
No presente momento - 2014 - sentimos
adequado abordarmos o tema existencial “ser-para-a morte”
na visão de Heidegger, ainda que en passant,
devido ao instante que vivemos as separações do outro.
Assim, apresentaremos algumas de nossas anotações sobre
a morte, segundo o filósofo alemão Martin Heidegger (Meßkirch,
26 de setembro de 1889 - Friburgo em Brisgóvia, 26 de
maio de 1976), focando no ser-para-a morte, tema
desenvolvido na sua obra inacabada Ser e Tempo,
de 1927; objetivando criar a possibilidade de reflexão
sobre o sentido da vida do homem contemporâneo ocidental,
cuja existência superficial, genericamente falando, o
afasta de sua dimensão mais originária: a temporalidade
- horizonte aberto de toda compreensão de mundo, de vida,
do sentido da angústia e da realização. Isso o empurra,
quiçá, a um “pensar tranquilo” sobre as suas próprias
finitudes e um encontro luminoso com o Indefinido e com
o Indiscutível: Deus.
Dentro de sua análise existencial,
Heidegger fez uso da angústia e do ser-para-a-morte para
perturbar a lógica do impessoal que comanda a vida
cotidiana. Ele acreditava que o homem, ao tomar
consciência da sua condição de ser finito, poderia
apropriar-se de suas possibilidades, escolher seu si
mesmo mais próprio e assumir autenticamente a sua
maneira de viver como ser-no-mundo. Ter consciência de
nossa condição de sermos-para-a-morte e do nosso
encontro com o Indescritível não significa vivermos
temerosos, assombrados. Significa sim uma abertura ao
que a morte nos revela de mais essencial: nossa própria
vida e nosso modo de viver nessa terra.
A IDÉIA DA MORTE
Parece-nos que de todas as experiências
humanas nenhuma nos traz mais implicação e inquietude do
que a ideia da morte e o medo que ela nos inspira. Nem
as religiões e as doutrinas filosóficas, e nem mesmo a
ciência, são capazes de amainar a angústia que a
consciência da finitude promove-nos. Por isso, nós, os
ocidentais contemporâneos, a negamos e a recusamos das
mais variadas maneiras - ansiosos por ideias vitais que
resolvam nossas tensões e que nos deem a falsa sensação
de a estarmos domando.
Contudo, negar essa realidade ou fugir de
qualquer reflexão sobre a morte não a evita como vemos
ao nosso redor e bem nos explanou Ariès: “não é fácil
lidar com a morte, mas ela espera por todos nós...
Deixar de pensar na morte não a retarda ou evita. Pensar
na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que
ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto
qualquer outra” (ARIÈS, 2003, p. 20).
Precisamos entender, dessa forma, que a
morte não é um fracasso. Temos esse sentimento devido à
ideia de que a vida é sempre inacabada. Contudo, é uma
realidade que força o homem a tomar consciência de seus
valores mais profundos e a se posicionar diante da vida
(HENNEZEL; LELOUP, 1999). Assim, Angerami (2007)
concluiu que “a morte é, muitas vezes, um processo vital
que determina inclusive o modo de viver e a própria
condição da vida”. De onde se conclui que ela não deve
ser pensada como uma inimiga a ser derrotada.
Sentimento que pode, segundo Rubem Alves (1992),
levar-nos a tornarmo-nos surdos às lições que a morte
pode ensinar-nos e sermos tolos na arte de viver. Rubem
Alves entende que deveríamos tornar-nos discípulos da
morte e não inimigos. Em 2000, encontramos Sponville
afirmando que “ninguém jamais fracassou em morrer, mas
em viver”. Ele nos lembra sobre a impossibilidade de
vivermos felizes “sem aceitar a própria trama de nossa
existência que é o tempo que passa e a vida que se
desfaz”.
SER PARA A MORTE
Segundo Safranski, nós não apenas somos,
mas percebemos que somos e que estamos entregues a nós
mesmos. Ele completa dizendo que somos aquilo que nos
tornamos ao longo do tempo - horizonte aberto – como
ser-no-mundo e ser-com-outros.
Quando Heidegger convida-nos a olhar para
o tempo como um horizonte aberto, ele nos faz perceber
que, entre muitas possibilidades que nos aguarda, uma
ocorrerá com toda certeza: a possibilidade da
impossibilidade, o grande passar, a morte. E, nesse
sentido, ele relaciona morte/tempo: “O Dasein sabe de
sua morte [...] O Dasein sente que vai passar” para
lembrar-nos que, em cada vivência aqui e agora, já
percebemos esse passar e que vivenciamos o tempo em nós
mesmos como esse passar na maneira como a vida se cumpre
(SAFRANSKI, 2005, p. 172).
Nessa relação morte/tempo, Abbagnano
(2006) afirma que o homem é definido pelo tempo, é a
possibilidade de que cada uma das possibilidades do
homem se perca; e, a morte é a possibilidade da
impossibilidade, por ser ela o que finda todas as outras.
Nesse sentido, ele entende que a temporalidade (relação
morte/tempo) determina essencialmente a natureza do
homem enquanto indeterminação e problematicidade, porque
ela “não é uma circunstância acidental da existência do
homem, um estado provisório de seu ser, ao qual se
pudesse conceber que ele fosse subtraído”.
A temporalidade define a natureza, a
constituição última do homem, porque é a própria
problematicidade de seu ser. “Tudo que o homem é, ele o
é por força de sua natureza problemática, que é a
própria temporalidade”. Isso faz mesmo todo sentido se
considerarmos que, em nosso cotidiano, vivemos meio
escravizados pelo tempo. Ele passa sem descanso e sem
interrupção, e sempre apontando para um futuro que
poderá ou não acontecer, uma vez que na condição de
“ser-aí” a qualquer momento posso já não mais existir.
Para Heidegger, a morte como
possibilidade certa não é um acontecimento no tempo, mas
o fim do tempo. E, essa certeza não pode ser
experimentada diretamente já que para isso é preciso
morrer. Assim, como fenômeno cotidiano, a morte é vivida
sempre com a morte do outro. No entanto, a minha morte e
a morte do outro revela o caráter determinante e
constituinte do Dasein como ser-para-a-morte. E ser-para-a-morte
revela o não-ser como essência da existência, revela a
situação de inconclusão, de pendência em que o homem se
encontra e por isso mesmo sempre passível de realização.
Onticamente falando, o Dasein só se
completa, só atinge a totalidade com sua morte, quando
deixa de ser ente, ou seja, quando deixa de ser-no-mundo.
E é por isso que a morte representa, no existencialismo,
a última experiência, a que dará completude ao indivíduo.
Dastur (2002) completa dizendo que, na análise
heideggeriana, a morte está intimamente ligada ao
fenômeno da existência e não deve mais ser pensada como
algo externo que determinaria o fim da existência, mas
sim como o que constitui essencialmente a relação do
Dasein com seu próprio existir, que ele chama de “ex-sistência”.
A existência é, por sua própria natureza,
nascimento e morte. O ex-sistir do homem tem seu sentido
ontológico na possibilidade inalienável de ser-para-a-morte,
ou seja, “para morrer basta estar vivo”. Nesse sentido,
Michellazo confirma que a morte é uma manifestação da
própria vida, ou seja, uma não pode ser sem a outra,
porque, como Heidegger esclareceu, “tudo o que começa a
viver já começa também a morrer, a caminhar para a morte”
(HEIDEGGER, 1978, p. 156).
ANGÚSTIA
Sêneca já professava que “quem teme a
morte, nunca agirá conforme sua dignidade”, pois apenas
aquele consciente de ter sua sorte decidida desde o
momento de sua concepção “viverá em conformidade com tal
projeto e, ao mesmo tempo, irá cortejá-lo, com pleno
vigor da alma”, e que a desarmonia entre o comportamento
social e a autenticidade da pessoa é fonte de grande
inquietude (SÊNECA, 2009). É a partir dessa inquietude
que, em Heidegger, chama-se angústia o que o homem
poderá vir a descobrir e ser capaz de libertar-se do
mundo - mundo alienante e de ritmo alucinante, ditado
pelo dia-a-dia para assumir as rédeas do seu destino e
dar à sua existência o sentido que lhe é o mais próprio.
Contudo, em geral, o Dasein não tem um
saber expresso sobre sua condição de estar entregue à
própria morte, porque está absorvido no mundo de suas
ocupações, fugindo da angústia, ontologicamente
considerada, que nos remete à totalidade da existência
como ser-no-mundo e como ser-para-a-morte. De fato,
muitos homens fogem da angústia provocada pela
consciência da morte e evitam refletir sobre suas
implicações.
Outros poucos meditam sobre a morte e
sobre a abertura que ela proporciona para tornar o
Dasein aquilo que ele realmente é: autêntico e singular.
Conscientizar-se da realidade da morte e assumi-la como
minha obriga-me, por meio da angústia existencial, a
encarar o meu ser como um ser de projeto que não
dispensa a morte, mas que faz dela a mola propulsora de
minhas atitudes e projetos existenciais. Dessa forma é
possível afirmar que a liberdade para a morte e que a
angústia é o que libera o homem da banalidade cotidiana
para a possibilidade de uma existência autêntica, na
qual a morte é doadora de sentido das outras
possibilidades, por ser ela o que confronta o ser humano
com seu mais genuíno modo de ser. É por essa razão que
Heidegger afirmou em Ser e Tempo que “a angústia
singulariza a pré-sença em seu próprio ser-no-mundo que,
na compreensão, se projeta essencialmente para
possibilidades” (HEIDEGGER, 1993, p. 251).
Nesse caso, a tarefa do homem enquanto se
“está sobre o próprio ser”, enquanto ser-aí, é, para
Nogueira (2007), apropriar-se de si mesmo - do seu ser
-, apropriando-se, assim, de suas possibilidades de ser.
Entre as possibilidades de ser, há duas radicais pelas
quais o homem decide seu destino: a autenticidade e a
inautenticidade. São os modos fundamentais de existir
que dão forma a todos os outros no espaço-tempo da vida
humana. É pela autenticidade que o Dasein é capaz de
encontrar-se plenamente com o seu ser, quando é remetido,
pela voz da consciência, ao sentido da morte que nos
mostra o nada de todo o projeto. A existência autêntica
é aceitação da finitude o que significa ter “a coragem
da angústia diante da morte”. Contudo, a massificação
do mundo contemporâneo induz-nos ao consumismo
desenfreado, nos dita valores, define nossas
necessidades, rotula-nos, leva-nos a perder-nos em um
cotidiano frenético e a vivermos de maneiras alienadas.
Esquecidos de nós mesmos e dissolvidos no modo de ser
dos outros, de tal maneira que a singularidade e a
diferença perdem-se no “todo mundo” que na verdade não é
ninguém.
A esse modo cotidiano de ser Heidegger
chama de “impessoal”, pois falamos diariamente como “a
gente” fala, comportamo-nos como o outro espera que nos
comportemos, e “nos relacionamos com os outros, de modo
a não sermos nós mesmos, mas ‘a gente’”(MICHELAZZO,
1999, p. 130).
Bauman (2009) menciona em A Arte da
Vida que Max Frisch, o grande romancista suíço do
pós-guerra que sofreu influência do existencialismo e de
Brecht, escreveu em seu diário que apenas conseguiremos
resistir à corrente e fugir das garras imobilizantes do
impessoal se rejeitarmos e repelirmos resolutamente as
definições e as identidades impostas ou insinuadas por
outros para desenvolvermos a arte de “ser você mesmo”,
que é reconhecidamente a mais exigente de todas.
Desenvolver essa arte depende, segundo Heidegger, de
conscientizarmos de nossa condição humana de
sermos-para-a-morte, pois só então poderemos
apropriar-nos de nossa existência e de nossas mais
próprias possibilidades.
Na forma inautêntica de existir, o Dasein
envolve-se nas ocupações diárias e é absorvido pelas
preocupações de modo a se deixar levar pela vida vivida
superficialmente em vez de tomar-se à sua própria
responsabilidade e realizar-se verdadeiramente como
ser-no-mundo. São muitas as ocupações e as distrações
que encobrem o fato de o homem fugir da sua condição de
ser-no-mundo - de não entregar-se a si mesmo -,
dando-lhe a ilusão de que o mundo, como verdadeiro
sujeito do homem, é que determina sua existência e
destino - vejamos, por exemplo, a televisão e as redes
sociais.
Nesse caso, o homem pode, inclusive, crer
que “tudo no mundo se acomoda às suas necessidades, que
até mesmo a constituição de mundo está ordenada a fim de
lhe possibilitar a vida e a felicidade, e que, por isso,
nada há no mundo que não se possa medir pelo metro de
sua utilidade e critério” (ABBAGNANO, 2006, p. 144). Ora,
com esse pensamento, o mundo é mesmo um perigo, já que o
homem nega-se a reconhecer que o próprio caminho do
mundo depende dele e não do próprio mundo. Olhemos os
nossos idosos, olhemos os nossos jovens e olhemos as
nossas crianças.
Abbagnano (2006) lembra-nos sobre a
impossibilidade de antepor o mundo à existência e
renunciar a ele a iniciativa e a responsabilidade da
própria existência, pois “se não tomo sobre mim a
responsabilidade da decisão, perco-me a mim mesmo e à
realidade do mundo”. Perder-se é naturalmente a recusa
de assumir-se a si mesmo, é a fuga diante da finitude
radical da qual nenhuma existência pode desfazer-se.
Esse “perder-se” é próprio da condição inautêntica da
existência - “expressa o esforço do Dasein na sua busca
da familiaridade para escapar do confronto com o ser” (MICHELAZZO,
2006, p. 130).
Aqui, confrontar-se significa dar-se
conta do paradoxo de que o que é mais pertinente à sua
essência como existência é estar aberto à
impossibilidade da própria existência. E mesmo a busca
pela familiaridade, no sentido do previamente trilhado,
também não é assim tão seguro e tranquilo, porque, no
impessoal, também experimentamos o sofrimento: tanto o
sofrimento próprio das identificações estabelecidas,
como o sofrimento gerado pelas “necessidades” de consumo
e de constantes satisfações, bem como do medo de não as
alcançarmos.
Para Rodrigues (2008, p. 196): “Será
sobre esse território de familiaridade, povoado de
incerteza e ‘angústia’, que a experiência da estranheza
se dará, marcando a provisoriedade de todas as coisas,
estabelecendo novas referências, abrindo o terreno para
outras possibilidades de sentido”.
A angústia advinda dessa constatação é um
estado de ânimo que rompe a existência para o mundo, que
tira o Dasein do cotidiano nivelador e rasteiro e o abre
para aquilo que ele pode unicamente ser a partir de si
mesmo. Ressaltamos que é na abertura privilegiada dessa
vivência da angústia que nos angustiamos com a falta de
sentido no mundo, que não mais pode nos sustentar. É por
meio dela que nos remetemos ao fato de estarmos desde
sempre lançados no mundo por nossa própria conta. Não é
o outro a nossa conta! Ao nos apontar para o que de fato
somos, ela naturalmente desconstrói as nossas certezas,
as nossas prioridades e referências, e, então, tudo que
consideramos importante é convocado a uma
ressignificação, ao autêntico religare.
Assim, quando o homem defronta-se com a
morte, ou porque perdeu um ente amado, ou porque se
descobriu com uma doença grave, ou ainda porque assistiu
pela televisão, ou leu no jornal, espantado e comovido,
a um desastre natural ou a uma tragédia provocada pelo
homem, ele naturalmente se angustia. É em consequência
dessa angústia, devidamente assumida, que ele será capaz
de promover mudanças significativas em sua vida, de
“abraçar a sua responsabilidade humana fundamental, de
construir uma autêntica vida de compromisso,
conectividade, significação e satisfação consigo mesmo”
(YALOM, 2008, p. 39). O que significa que o homem está
essencialmente determinado tanto pela finitude como pela
angústia, pois ambas levam o homem a transcender a si
mesmo como ser-no-mundo, e a buscar pela fé a sua
essência no Indescritível e Indiscutível. Sponville
(2000) considera a angústia o que há de mais humano, e
que apenas a morte liberta-nos dela, mas sem jamais
contestá-la, porque sua verdade revela que “somos fracos
no mundo e mortais na vida”.
Um importante personagem da literatura
russa (que jamais fizera o que de fato queria, mas
sempre o que esperavam que ele fizesse), Ivan Ilitch, de
Tolstói, é um bom exemplo de quem se tornou consciente
da vida e da morte quando se descobriu com câncer e na
iminência de morrer. Foi nessas circunstâncias que ele
pode questionar-se sobre a morte, rememorar sua vida e
avaliar o que foi vivido e o que deixou de viver: “E na
opinião dos outros eu estava o tempo todo subindo e todo
o tempo minha vida deslizava sob meus pés. E agora
acabou tudo e é hora de morrer (...). Talvez eu não
tenha vivido como deveria (...). Mas, como se eu sempre
fiz o que devia fazer?” (TOLSTOI, 2008, p. 89apud
SPONVILLE, 2000).
Mesmo sentindo terríveis dores e com a
morte se aproximando, Ivan Ilitch pôde passar por uma
considerável mudança, descobrindo a compaixão, a ternura
e a empatia que, até então, lhe eram estranhas. Sua
história ilustra a passagem de uma vida morta, esvaziada
de sentido, para uma morte que lhe ensina sobre a vida.
Podemos até pensar que Sponville inspirou-se em Ivan
Ilitch quando escreveu: “Quantas vidas, de tanto querer
evitá-la, condenam-se assim inteirinhas à morte?” (SPONVILLE,
2000, p. 67.
E como Ivan Ilitch, muitas outras pessoas
que se confrontam com uma situação difícil na vida,
nesse caso estar diante da iminência de sua morte,
conseguem, após o choque inicial, ultrapassar o
desespero e ir ao encontro do que há de mais íntimo em
seu ser, ao que lhes é mais essencial para dar um
significado próprio ao restante de suas vidas. Tal
ressignificação atinge não somente aquele que confronta
diretamente a circunstância difícil, mas a todos que lhe
são próximos. Dessa forma, a pessoa que vive o “absurdo”
de perder alguém que ama, também pode ser chamado a
repensar sua vida, seus valores e suas escolhas. Porque
é na obscuridade em que se encontra, no vazio e na dor,
que a angústia heideggeriana o conduzirá a refletir
sobre a existência, ao reencontro consigo mesmo, ao
fazer e ser singular; enfim, o conduzirá a realizar seu
projeto de vida autêntico.
É facilmente observável a diferença entre
os discursos daqueles que já vivenciaram o confronto
essencial com a finitude com os daqueles que jamais
sentiram o chão se abrir sob seus pés. Esses têm um
arsenal teórico e racional para explicar o que não tem
explicação e para procurar saídas, culpados e para
determinar até quando é permitido sofrer. De tanto fugir
da morte e negá-la perdem até a capacidade de
solidarizar-se com ela para mantê-la distante e não ser
tocado por ela. Esse modo impróprio de compreensão é que
facilmente os conduzem de volta à multidão, à
impessoalidade, sem de fato terem sido tocados na
profundidade da vivência que os instiga e intima a
refletir e ressignificar a própria existência.
EN
PASSANT:
ANGÚSTIA E MORTE
Segundo o exposto, com base no
Existencialismo heideggeriano, necessário se faz
olharmos de frente à nossa realidade de morte, o que nos
remete à nossa condição irremediável de estarmos
lançados a um futuro que pode ser limitado. Entretanto,
isso é o que nos permite ter mais consciência da nossa
vida, do quanto podemos usufruí-las e de como queremos
vivê-las, pois, quando nos damos conta da simplicidade e
da fragilidade que pode ser a vida, é que nos
perguntamos sobre as coisas que realmente importam.
É a partir desse confronto que poderemos
modificar nossos valores, ressignificar nossas vidas,
refletindo sobre o que de fato é essencial como
seres-no-mundo. Afinal, esse nada existencial que o ser-para-a-morte
revela-nos é que nos garante a possibilidade sublime de
refazer pensamentos, comportamentos e caminhos. Nesse
momento, remetemo-nos à afirmação: “Por isso sinto
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo.
Porque quando estou fraco então sou forte”.
A fragilidade da vida vivida; a certeza
infalível da morte; as quedas sem levantes nas relações
humanas; o medo de se amar, amar o outro e ser amado; o
trêmulo medo da solidão; o ameaçador medo do medo; a
vacuidade existencial; a eterna impermanência de tudo
nos dias de hoje etc., são verdades e realidades puras
dessa vida - havendo outras e solitárias sempre verdades!
Mortais sempre! Pungentes sempre! Tão frágeis, tão
fracas e tão expostas sempre!
O distanciamento que temos à nossa
realidade com tudo que é dor, com tudo que é referente à
morte, deixa claro o quanto nos defendemos da nossa
existência e a negamos. A angústia e a morte vão
esbarrar-se exatamente no projeto sociocultural moderno
de controle, de consumo, de gozo de uma fictícia e
temporária felicidade. Projeto que busca a
previsibilidade e a imortalidade a todo custo. Ao nos
posicionarmos assim, perdemos a oportunidade de refletir
sobre o rumo que damos à nossa vida, à vida do outro e à
do mundo. Ao mesmo tempo em que negamos nossa condição
humana de sermos finitos, vivemos, literalmente, a
cultura do carpe diem - o “aproveite o momento”,
o “aqui e agora”-, buscamos, delirantemente, apenas o
“ter” e o “prazer”. Temos visto que essa busca
incessante de gratificação leva-nos a estabelecer
relações hedonistas, liquefeitas e descompromissadas com
nós mesmos, com tudo e com todos à nossa volta, em uma
completa banalização do ser e da vida.
Procurarmos ter a consciência de
sermos-para-a-morte é o que realmente nos empurra a
sermos singulares, levando-nos a abrir-nos à
possibilidade de uma existência autêntica e à construção
de mundos decentes e saudáveis. Viver de um modo próprio
e autêntico nada mais é do que nos apropriarmos de nossa
existência utilizando nossa liberdade consciente para
fazermos escolhas conscientes e responsáveis que
englobem o outro e o mundo. É importante que, sobre as
nossas escolhas, questionemos, a todo o momento, se elas
provêm de uma opção pessoal ou se estamos sendo
induzidos a elas para evitarmos ser levados pela
multidão e pelo modo impessoal. Contudo, escolher viver
de um modo “mais” próprio – não psicoticamente à margem
–, parece-nos que somos levados na contramão em relação
à realidade cunhada na nossa sociedade consumista,
libertina, vaidosa, superficial e que procura ter
valores enviesados. Assim, para as pessoas, ser normal é
ser igual a “todo mundo”, é estar no mundo da mesma
maneira que todos.
Parece-nos que, mesmo ao apropriarmo-nos
da nossa existência e tornamo-nos únicos, singulares
mesmo nas simplicidades, ainda assim somos novamente
tentados a ceder à força da correnteza, à alienação, ao
esquecimento de nós mesmos, a abrirmos mão de nossos
projetos existenciais. Isso porque, na condição de
ser-com-os-outros, que é ser um ser social, nós, humanos
complexos, limitados e falíveis, não permanecemos o
tempo todo em um mesmo modo de ser. Por isso mesmo
deveríamos ocupar-nos em efetivar nosso projeto
existencial, não apenas quando a morte impõe-se a nós,
mas continuamente e de forma compromissada, pois o fato
dela ser possível a qualquer momento coloca-nos na
condição de estarmos sempre à sua disposição e à sua
iminência.
Será possível, por meio do pensamento
heideggeriano, colocarmo-nos diante de Deus, de nós
mesmos e do outro, nos percebendo como um ser-para-a-morte,
reescrevendo a nossa história e atribuirmos um sentido
próprio e genuíno à nossa existência? “Nada está
adquirido nunca, nada está prometido nunca, senão a
morte. Por isso só se pode escapar da angústia aceitando
tudo o que ela percebe, que ela recusa e que a
transforma. Mas o quê? A fragilidade de viver; a certeza
de morrer; as quedas no casamento, no estudo, nas
finanças e no amor; o pavor de amar e ser amado; a
solidão; a vacuidade; a eterna impermanência de tudo.
Essa é a vida mesma, e não há outra, solitária sempre!
Mortal sempre! Pungente sempre e tão frágil, tão fraca e
tão exposta sempre!
Ainda que “en passant”, como temos
vindo até aqui, resgatemos um dos pensamentos sobre a
morte no Existencialismo filosófico sob a ótica do
filósofo cristão Gabriel Marcel (7 de dezembro de 1889,
Paris – 8 de outubro de 1973, Paris).
● Deus
O homem que vive na esfera do Problema e
do Ter só possui opiniões mutáveis. Aquele, porém, que
alcançou a região do Mistério do Ser conseguiu obter a
firmeza inabalável da Fé. “Toda fé autêntica está
enraizada no Ser e no Mistério” (GIORDANI, 1976, p.
126). O indivíduo realiza-se como indivíduo na medida em
que afirma a transcendência de Deus e sua própria
condição de criatura de Deus. A fé converte-se no ato
ontológico mais importante e mais criador. A Fé implica
em testemunho contínuo. Pelo testemunho a pessoa prende-se
a si mesma com toda a liberdade. Não há problema de Deus
(expressão rejeitada por Marcel como sacrílega): o que
implicaria em tratar-se de Deus como ausente, como puro
objeto. Não falamos de Deus, mas com Ele. A união com
Deus é a santidade. Deus é presença absoluta: “Deus só
me pode ser dado como presença absoluta na adoração;
todo o conceito que formo d’Ele é só uma expressão
abstrata, uma intelectualização desta presença” (GIORDANI,
1976, p. 126-127). O Deus do filósofo Gabriel Marcel não
é nem um objeto suscetível de demonstração objetiva (racionalismo)
nem uma mera função (subjetivismo), mas “o
Indemonstrável Absoluto”. O filósofo Marcel registrou
que “desde que se fala de Deus, não é mais de Deus que
se fala” (“Dès qu’on parle de Dieu, ce n’est plus de
Dieu qu’on parle”) (GIORDANI, 1976, p. 130).
Para nossa dor, vemos que, ainda na nossa
época moderna, a morte, mesmo para os cristãos,
apresenta-se como uma insegurança inexorável. Não é de
se admirar a existência de pessoas que queiram negá-la,
de certo modo, ou em termos menos radicais, mantê-la
distante de seus pensamentos.
REFERÊNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Introdução ao Existencialismo.
São Paulo: Martins Fontes, 2006.
ALVES, Rubem. Variações sobre a vida e a morte.
São Paulo: Paulus, 1992.
ANGERAMI, Valdemar Augusto.
Psicoterapia existencial. São Paulo: Thomson
Learning Brasil, 2007.
ARIÈS, Philippe. História da Morte no Ocidente.
Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.
BAUMAN, Zygmunt. A Arte da Vida. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2009.
DASTUR, Françoise. A Morte: Ensaio sobre a
finitude. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002.
GIORDANI, Mário Curtis. Iniciação ao Existencialismo.
Rio de janeiro: Freitas Bastos, 1976.
HEIDEGGER, Martin. Introdução à Metafísica. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
______. Ser e Tempo. Volume I e II. Tradução de
Márcia de Sá Cavalcante. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.
HENNEZEL, Marie; LELOUP, Jean-Yves. A arte de morrer:
traduções religiosas e espiritualidade humanista diante
da morte na atualidade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
MARCEL, Gabriel. El Mistério del Ser. Buenos
Aires: Sudamericana, 1953.
MICHELAZZO, José Carlos. Do um como princípio ao dois
como unidade – Heidegger e a reconstrução ontológica
do real. São Paulo: FAPESP: Annablume, 1999.
MICHELAZZO, José Carlos.
Do um como princípio ao dois como unidade –
Heidegger e a reconstrução ontológica do real. São
Paulo: FAPESP; Annablume, 1999.
NOGUEIRA, João Carlos. A Arte de Morrer – Visões
Plurais. Bragança Paulista, SP: Comenius, 2007.
RODRIGUES, Tavares Rodrigues. Interpretações
fenomenológico-existenciais para o sofrimento psíquico
na atualidade. Rio de Janeiro: GdN, 2008.
SAFRANSKI, Rüdiger. Heidegger: Um mestre da
Alemanha. São Paulo: Geração Editorial, 2005.
SÊNECA. Da tranquilidade da alma. Tradução de
Lúcia Rebello e Itanajara Neves.
São Paulo: L&PM, 2009. (Coleção L&PM Pocket).
SPONVILLE, André Comte. Bom dia angústia. São
Paulo: Martins Fontes, 2000.
YALOM, Irvin D. De frente para o sol: como
superar o terror da morte. Tradução de Daniel Lembo
Schiller. Rio de Janeiro: Agir, 2008.
Escrito em Botucatu-São Paulo, 1983.
Reescrito em São Paulo, 2.VIII.2014. |